
Placas toponímicas de Mazagão
A história de Mazagão é uma história de luta e resistência de uma comunidade que viveu isolada durante 260 anos, cercada por um ambiente hostil. Na Cidadela de hoje respira-se um ar português, carregado de história, que a população local teima em preservar, estampado nas pedras, nos elementos arquitectónicos, nas mensagens escritas…
“O actual bairro da Cité Portugaise em El Jadida encerra em si uma história portuguesa, construída e urbana, que debutou com o levantamento de um castelo manuelino em 1514 e se prolongaria por mais de dois séculos e meio. Porém, foi o investimento numa nova praça fortificada e abaluartada, com desenho regulado de vila no seu interior, conduzido por uma junta de arquitectos e engenheiros em 1541 que cristalizaria a imagem de Mazagão como baluarte inexpugnável no Norte de Africa e preservaria o estrato formal português na actual cidade marroquina”. (CORREIA, 2007, p. 184)
Planta de Mazagão de 1802 de Ignacio António da Silva . Biblioteca Nacional de Portugal
A vida em Mazagão decorria em permanente sobressalto, num clima de guerra constante, situação que era agravada com a dificuldade de abastecimento, o que originava frequentemente períodos de fome para os seus habitantes. As hortas situavam-se nos terrenos mais próximos e eram vigiadas constantemente, mas os moradores aventuravam-se frequentemente para zonas mais afastadas buscando lenha ou caçando, sempre de forma organizada. Dentro do próprio perímetro muralhado existiam pequenos talhões cultivados.
As atalaias que circundavam a praça tinham um papel fundamental para avisar os seus habitantes de qualquer ameaça exterior e também para assegurar que o trabalho no campo se fazia em segurança. A vigilância fazia-se cada vez de forma mais rigorosa, ficando os cavalos selados toda a noite para qualquer eventualidade.
O Baluarte do Anjo visto do fosso
A guerra em torno da praça fazia-se de “almogaverias” ou correrias. “É a guerra de surpresas e de ciladas, aproveitando os acidentes do terreno ou a escuridão da noite.” (LOPES, [1937] 1989, p. 43) Os “almogávares” tornaram-se numa força de elite em permanente actividade fora de portas, que fazia razias nas aldeias, roubando gado, destruindo colheitas e fazendo cativos.
A vigilância dos terrenos circundantes fazia-se através de operações diárias, como relata um viajante francês de nome Mocquet, que esteve em Mazagão em 1602:
“Todos os dias de manhã saem de Mazagão cerca de 40 de cavalo que vão descobrir o campo e nele ficam até o meio-dia; e depois desta hora saem outros 40 que só voltam à tardinha. Seis deles, chamados atalaias, tomam lugar em postos afastados e ficam de vigia; e, se eles descobrem qualquer coisa de suspeito, recuam rapidamente e, visto este movimento da vigia da povoação, dá logo duas ou três badaladas, ao mesmo tempo que os outros de cavalo correm na direcção da atalaia em perigo. Para dar sinal à Praça há em todos os lugares, onde as atalaias se postam, um grande pau de madeira de mastro, ao alto do qual içam com uma corda uma espécie de bandeira, que é o aviso para os moradores se armarem.” (LOPES, [1937] 1989, p. 42)
Artilheiro no Baluarte do Anjo
A partir de 1559 o sultão Mulai Abdallah inicia uma serie de ataques a Mazagão, que se prolongariam pelos anos seguintes, e que levam a regente D. Catarina a pedir um parecer sobre o abandono da praça. Inclusivamente parte da guarnição militar é retirada e evacuadas mulheres e crianças. Ao saber desta situação o sultão decide por cerco à Vila no ano de 1562, o que provoca uma mobilização geral no reino, principalmente em Lisboa.
“Os cidadãos da cidade de Lisboa (…) de improviso fizeram mil homens de guerra para o socorro, que logo mandaram, e outros tantos fizeram os oficiais mecânicos da dita cidade, os quais davam o dinheiro com muito grande alvoroço e contentamento.” (FARINHA, 1999, p. 66)
Outros autores defendem que foram enviados de Lisboa 20.000 homens armados. O capitão Álvaro de Carvalho regressa de Portugal com uma armada na qual iam muitos cavaleiros, entre os quais 600 fidalgos que haviam obtido autorização da regente para partir de Lisboa em auxílio dos seus irmãos de armas. O cerco durou três meses e a guarnição de 2.600 homens resiste, repelindo todas as tentativas dos mouros para penetrar na Cidadela, ficando para história Rodrigo de Souza o “herói de Mazagão”. Rodrigo de Souza, também referenciado como Rui de Souza Carvalho era irmão do capitão Álvaro de Carvalho e seria nomeado governador após o cerco.
Quando a 7 de maio o filho do sultão decidiu levantar o cerco, já teriam morrido ”mais de vinte e cinco mil mouros e cento e dezassete portugueses”, para além dos 270 feridos do lado português. No final desse ano as Cortes reúnem-se e votam contra o abandono de Mazagão.
O pano Sul da Cidadela visto do Baluarte do Anjo
No ano de 1640 ocorre um episódio que envolveu o Governador da Praça, D. Francisco Mascarenhas, e a quase totalidade dos cavaleiros de Mazagão, que ficou conhecido pelo nome de “desaventura do Conde”.
Reza a história que o marabu El Ayachi engendrou um plano para aniquilar os portugueses de Mazagão, tendo enviado dois xeques amigos do capitão para “pedirem fingidamente ajuda a este para submeterem ao rei de Marrocos alguns aduares que diziam ter-se rebelado”. O capitão prometeu-lhes auxílio, “contra o parecer dos principais cabos, nomeadamente do adail Luís Valente Barreto e do almocadém António Gonçalves Cota”, e saiu da Cidadela com cento e trinta e nove cavaleiros prontos para o combate. Os vigias da Atalaia do Ribeirão não se aperceberam da presença de um grande contingente de mouros emboscados junto ao local dos Medos, onde alguns deles simulavam uma luta entre si. Quando os portugueses aí chegaram “começaram a surgir subitamente os guerreiros de El-Ayachi, das ciladas onde se tinham escondido. Os portugueses ficaram então completamente cercados por mais de quatro mil mouros, entre cavaleiros e homens de pé”. No final só 3 portugueses voltaram à Cidadela, tendo 118 sido mortos e 18 feito prisioneiros. “Dos mouros terão morrido muitas centenas.” (AMARAL, 1989, obra citada)
O Pacha de Mazagão
O rapto e cobrança de resgates dos cativos é uma actividade comum e lucrativa nos terrenos de cultivo circundantes e simples actividades como a apanha de lenha tornam-se num perigo diário, conforme é descrito por um português no século XVIII:
“Todo o campo que se avista da fortaleza é plano, só para o lado direito fica um pequeno outeirinho: os mouros que vêm, não a investir mas sim a roubar, se escondem junto dele, até que chegue a noite para, no silêncio dela, virem a meter-se nas hortas. A gente que da praça sai a este costumado e preciso exercício de conduzir lenha vai observando todos os sítios e vendo se ficaram alguns escondidos; porque são tais os mouros que, quando não têm parte cómoda para as suas emboscadas, cavam no chão poços estreitos da altura de uma braça e neles se escondem, até que os do presídio, que vão a cortar a lenha ao mato, passem adiante; então, quando mais ocupados os vêm no exercício de cortar e carregar, de dentro do mato lhes saem magotes deles, que os obrigam a montar, e, tomando as armas, a porem-se em defesa, vindo sempre retirando-se para junto da praça; os que ficaram metidos nas covas e poços, que têm feito, lhes saem pelas costas com que, apanhando-os no meio, se lhes faz dificultosa sem que seja por meio de muito sangue. Este é o contínuo exercício dos habitantes de Mazagão, de que são tantas as batalhas como os dias; porque apenas haverá um em que não haja um choque, uma escaramuça, uma emboscada, um assalto, uma batalha…” (LOPES, [1937] 1989, p. 42-43)
O Baluarte do Anjo visto do mar
A partir de 1750 os ataques a Mazagão intensificam-se, registando-se importantes combates nos campos circundantes em redor dos seus muros, dando notícia de grandes vitórias dos portugueses sobre contingentes mouros muito mais poderosos, as quais provavelmente constituem relatos exagerados destinados a levantar o moral. Uma referência ao terramoto do 1º de Novembro de 1755, cujos efeitos se fizeram sentir em Mazagão, com a queda de muitos edifícios. Na década de 1760 os combates tornam-se mais frequentes, aumentando as ameaças que pesavam sobre os moradores da praça, e as reivindicações destes ao monarca por mais recursos e forças militares para a sua defesa.
Aos problemas de logística e abastecimentos juntam-se também episódios de insubordinação de muitos militares, que se revoltam pelo atraso e mesmo falta de pagamento dos soldos, conforme cartas escritas pelo Governador Vasques da Cunha ao Marquês de Pombal.

Forno comunitário em Mazagão
A população de Mazagão era bastante heterogénea, sendo constituída por um grande número de militares e suas famílias, que, juntamente com os fidalgos que ali buscavam fama, os fronteiros, e com os degredados, formavam o grupo dos habitantes que residiam em Mazagão por um período de tempo limitado. Do outro lado estavam os moradores permanentes, não só portugueses, mas também muitos Árabes, Berberes, Mouriscos expulsos de Portugal e Judeus.
De acordo com registos de meados do século XVIII, a população residente nas 700 habitações era de 2092 pessoas, a grande maioria das quais, cerca de 90%, integradas nas 425 famílias recenseadas. O número de homens e mulheres era praticamente igual, 54%-46%, e cerca de 30% do total de indivíduos tinha menos de 10 anos, o que significava que a população era jovem. A guarnição militar era de 592 efectivos, 30% do total de habitantes, dos quais 472 eram militares de infantaria, 99 de cavalaria e 21 de artilharia. Nos períodos de conflito os homens maiores de 13 anos eram chamados a prestar serviço na guarnição, aumentando o número de militares para 749, ou 36% do total. (SILVA, 2004, obra citada)

Placa de sinalização da Cisterna Portuguesa
A direcção da praça estava a cargo do governador ou capitão, com funções militares e de governo da fazenda, e nomeado pelo rei. Abaixo do governador, e por ele propostos ao soberano, encontravam-se os adaís, que comandavam directamente as tropas, e os alcaides-mores, que administravam o castelo. Por sua nomeação seguiam na hierarquia o juiz, o alcaide-menor, o alcaide do mar, estes dois responsáveis pelas portas da praça, o alfaqueque, que tinha a responsabilidade de resgatar prisioneiros, o tabelião e o medidor do almoxarifado. O governador estava também à frente da administração civil, a cargo do contador, o escrivão dos contos, o porteiro dos contos, o almoxarife dos mantimentos e o escrivão do almoxarifado, com funções na gestão da fazenda e dos mantimentos.
Para além dos funcionários, militares e administração civil, destacavam-se outras profissões, desempenhadas na época pelos seguintes indivíduos:
“O médico, Dr. Leandro Lopes de Macedo, o cirurgião Armando da Costa, o “Mestre de Meninos” Manuel Ferreira da Costa, o oficial da vedoria Francisco Afonso da Costa, os escrivães da vedoria Felizardo José de Miranda e Manuel Gonçalves Luís, o escrivão do almoxarifado Domingos Pinto da Fonseca, os meirinhos Gaspar Álvares Faleiro e Manuel Gonçalves da Costa, o fiel dos armazéns Miguel dos Anjos, o piloto da barra António Baptista e o sapateiro José da Costa.” (SILVA, 2004, p. 177) O vigário da Praça de Mazagão era frei Lázaro Valente Marreiros, existindo mais 8 eclesiásticos.
Mazagão nos meados do século XX
Em Janeiro de 1769 o sultão Sidi Mohamed Ben Abdallah põe cerco à praça com um exército de 120.000 homens e exige a sua rendição ao Governador, Dinis Gregório de Melo Castro de Mendonça. O cerco é acompanhado de fortes bombardeamentos de artilharia, que provocam estragos consideráveis. De Portugal, Dinis de Melo e Castro espera reforços, mas o destino da praça já estava traçado, pois Mazagão já não servia os interesses de Portugal e a decisão da coroa era a evacuação. No início de Fevereiro chegam 14 navios com uma mensagem do rei D. José. “Sua Majestade resolveu que, salvando-se a gente e a artilharia de bronze, nada se perdia em abandonar a mesma Praça aos Mouros”. (VIDAL, 2008, p. 37)
“Tem início, então, o abandono de Mazagão, segundo as instruções vindas de Lisboa. Crianças e mulheres deveriam ser embarcadas antes dos homens mais jovens. O documento definia o embarque das imagens sagradas e dos ornamentos das igrejas, depois vestimentas e objectos como móveis, que fossem possíveis de carregar. Da mesma maneira, a artilharia deveria ser embarcada e o restante seria destruído ou lançado ao mar, para que os mouros não fizessem usos dos equipamentos.” (ASSUNÇÃO, 2009, p. 33)
No início de Março os habitantes revoltam-se, recusando a ordem de evacuação, mas acabam por se render à evidência.
“Não havia espaço que não estivesse cheio de recordações: uma pedra, a esquina de uma rua, um largo… Os mazaganistas formavam um corpo com seus muros. Defendê-los era a sua razão de viver e de esperar. Muitos deles não imaginavam qualquer destino fora dos muros da fortaleza.” (VIDAL, 2008, p. 42)
Um harém embarca em Mazagão
Após negociações é estabelecida uma trégua de três dias para permitir a saída dos habitantes pela Porta do Mar.
“Antes de abandonar a cidade, homens e mulheres providenciaram a destruição do que deixariam para trás: quebraram tudo nas casas e nos altares das igrejas, cortaram as patas dos cavalos, transformaram as ruas em um campo de ruínas. Trazendo apenas as roupas do corpo, os moradores levaram três dias para sair da fortaleza, passando um por um pela estreita porta que dava saída para o mar e esperando os botes para levá-los até os navios. Por fim, já a bordo, ouviram uma grande explosão. A Porta do Governador, que permitia o acesso terrestre à fortaleza, tinha sido minada, num último esforço para dificultar a entrada dos “infiéis”.” (VIDAL, 2008, p. 40-41)
Na sua saída no dia 11 de Março os portugueses não respeitaram os termos do acordo. “…minaram os baluartes do lado de terra que, ao explodirem à passagem das tropas marroquinas provocaram numerosas vítimas (fala-se de 8.000 mortos).” (VIDAL, 2008, p. 41)
O Baluarte de Santo António
A vila toma o nome de “Al-Mahdouma” ou “A arruinada”, e fica encerrada e abandonada durante quase 50 anos.
Só em 1821 Sidi Mohammed Ben Ettayeb ordena recuperação e o repovoamento da Cidadela, transferindo para ali parte da colónia judia de Azamor. A cidade passa a designar-se “El-Jadida”, “a nova”.
Em 1824, o sultão Abderrahman determinou ao pachá da região de Doukkala e Tamesna, Sidi Mohamed Ben Tayeb, que restaurasse a antiga povoação portuguesa reerguendo as fortificações e construindo uma mesquita.
Durante o período do protectorado francês o nome original da cidadela é retomado, de forma afrancesada, designando-se Mazagan.
Em 2004 é classificada como Património da Humanidade pela UNESCO.

Mulheres sentadas frente à Porta do Mar
Os dois mil habitantes permanecem em Portugal até 15 de Setembro, data em que embarcam para o Brasil, onde iriam fundar a Vila Nova de Mazagão, na Amazónia.
“Com o passar das vagas, a cidade-fortaleza de Mazagão vai se configurando apenas como uma “cidade-da-memória”, cuja identidade guerreira, tão arduamente construída, vai aos poucos se dissolver nas espumas flutuantes do tempo…” (FURTADO, 2009, obra citada)










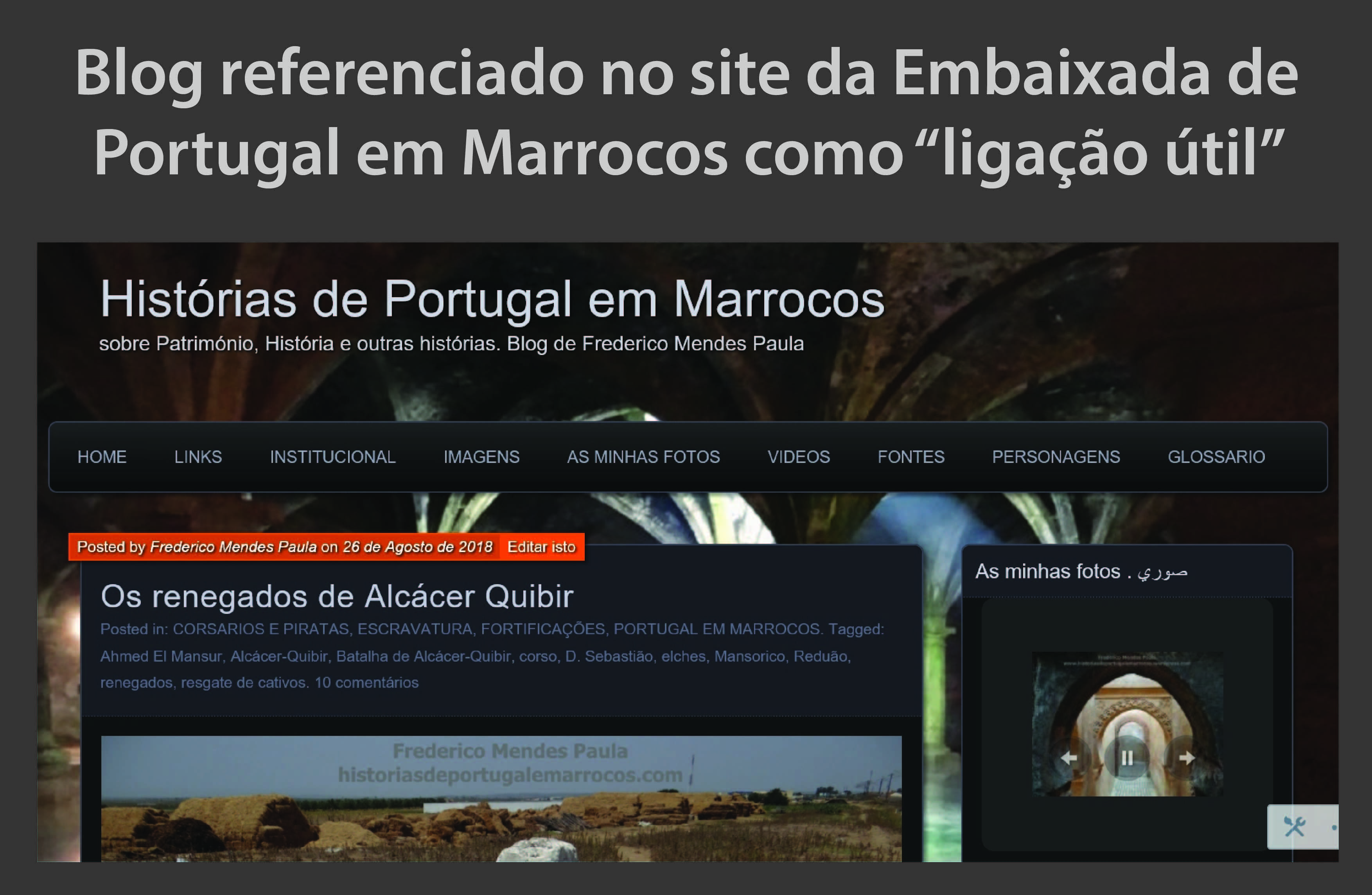














































































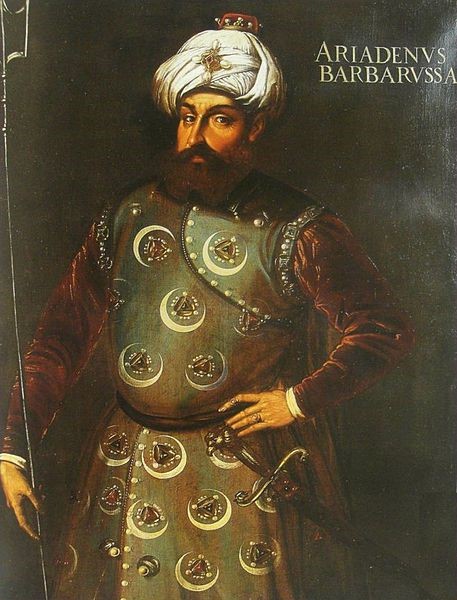
































































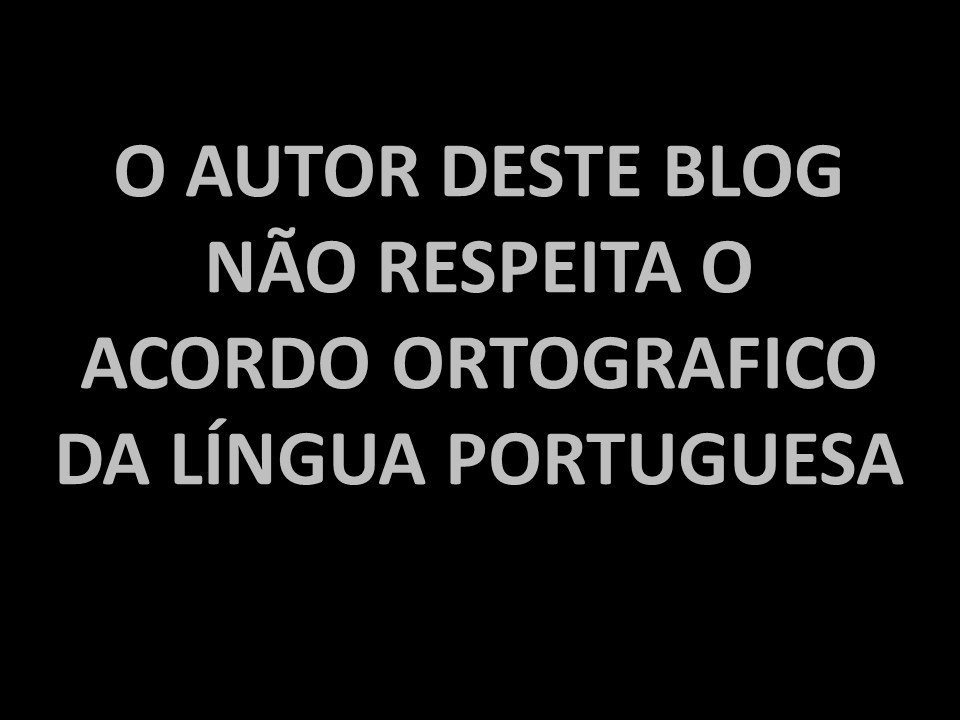





















Pingback: Said El Mansour Cherkaoui and Brazil